A tua graça sutil se desfaz na cópula
Os dentes rasgando os lábios
Os olhos enlouquecidos nas órbitas
As mãos arranham meu corpo
O castigo
A tua graça é selvagem
No coito todos os sentidos giram em torno da tua alma de bicho
A fogueira das paixões a que te entregas
Como voluptuosa bruxa
Carrascos irão te buscar no sono
Talvez a culpa lhe guarde uma porção de medo
Mas jamais irá lhe privar do prazer insaciável
Arrasta-me inelutavelmente
Para a embriaguez de por tanto prazer ser fustigado
O gozo que transcende
Torna-se dor
A dor dos sentidos extenuados
O grito
O gemido
Os pedidos suplicantes a Deus, nosso Pai
Quando por fim morremos nos braços um do outro
Caindo no sono letárgico
Com os corpos estendidos em prazeres-dores
O último suspiro da concupiscência louca
De todas as nossas células acasaladas
quinta-feira, dezembro 29, 2005
quarta-feira, dezembro 28, 2005
domingo, dezembro 25, 2005
A bicicleta vermelha
Um velho andando numa bicicleta vermelha. A pequena bicicleta vermelha que eu usava no sítio de vovô, rondando por horas e horas a pequena área da frente da propriedade.
Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna
Não tem jeito não, não tem jeito não
Dando voltas ao redor da enorme amendoeira, o pneu passando por cima das folhas secas, o sagüi danado de lá do galho alto olhando pra mim, e as raízes rasgando a terra. A pequena elevação de areia onde se encontrava uma planta cheia de flores roxas, subindo na montanha, olha só, tô subindo na montanha, as flores batendo no rosto, ah é gostoso demais, descendo, descendo, rápido, rápido, lá vou eu.
Certo mesmo é o ditado do povo
Pra cavalo velho, o remédio é capim novo
Menina, já faz duas horas que você está nessa bicicleta, eita serviço. A flor do pé de laranja, flor feia, sem graça. Vovó na cozinha fazendo o almoço de junto do fogão à lenha. Fogão de roça é bonito demais, queria saber fazer fogo com pedra, que nem os homens das cavernas. Mainha e vovó falando mal da dona do sítio vizinho que não dá banho nos filhos, você precisa ver, filha, o menino se arrastando no chão sujo, o outro com a frauda mijada, sei não, uma porca.
Vovó uma vez me contou de uma história de uma dona que deixou o bebê na rede na porta de casa. Não se pode fazer isso quando se criam porcos. Não é que um porco bem grande devorou o menininho, pobre criança, imagine o quanto não sofreu, e seus berros, buaaaa, buaaa.
Sertão é cheio de bicho, pra tudo que é lado. As rãs gélidas pulando em cima da gente na hora do banho, que a gente toma com água do poço. Buscar a água do poço é tão bom, imagine só eu descendo nessa balde até as profundezas, como será que é lá no fundo, ein? Daqui dá pra ver eu em meio à luz da noite na água negra. Tem alguém aí? Responde: tem alguém aí? A balde voltando, balança, força!
O que se esconde nas telhas à noite e foge de dia? Quem sabe. Há alguns pequenos buracos nas telhas, tomara que não chova, e que barulho é esse na cozinha? Mãe, você tá acordada? Eu é que não vou lá ver.
Foi tão bom passear de bicicleta, a jaca estava gostosa como o quê, será que vovó vai perceber que eu quebrei o abajur de gato dela? Como será que é nadar no poço? Homem bêbo enjoado aquele na cancela pedindo dinheiro pra comprar pinga. Ele tava batendo na mulher, eu ouvi os gritos, aquela que minha mãe disse que era porca, mandando o homem bêbo da cancela parar. Alguns filhos dele vivem carregando baldes bem grandes na cabeça, e ele trabalha numa fazenda até não sei que horas da noite.
Verde da cor do mato, uma cobra verde! Mamãe uma cobra verde no telhado, mamãaae! Acorda, José, uma cobra no telhado. Não acredito, uma cobra? Mata, mata! A gente vai pendurar ela na cerca, ein, ein? Agora deu pra dar cobra nesse sítio, ta beleza, meu Deus! Não posso nem ter sossego. Todo mundo pra lá e pra cá, um aperreio. Tio Augusto matou a cobra com um pedaço de pau e se empertigou todo fazendo cara de que não era grande coisa. Vou levar essa cobra pro laboratório de ciências lá da escola.
Um homem negro e forte sem camisa andando numa bicicleta vermelha, bêbado de álcool e infelicidade, cantando alguma canção em álcoolês, cuidado com o poste. Vermelho e azul, vermelho e azul, caras de desprezo cheias de autoridade em olhares altivos nas janelas do carro, fardas, cacetete, armas. O que foi que eu fiz, doutor, eu sou pai de família. Cê é malandro que eu tô ligado.
Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna
Não tem jeito não, não tem jeito não
Dando voltas ao redor da enorme amendoeira, o pneu passando por cima das folhas secas, o sagüi danado de lá do galho alto olhando pra mim, e as raízes rasgando a terra. A pequena elevação de areia onde se encontrava uma planta cheia de flores roxas, subindo na montanha, olha só, tô subindo na montanha, as flores batendo no rosto, ah é gostoso demais, descendo, descendo, rápido, rápido, lá vou eu.
Certo mesmo é o ditado do povo
Pra cavalo velho, o remédio é capim novo
Menina, já faz duas horas que você está nessa bicicleta, eita serviço. A flor do pé de laranja, flor feia, sem graça. Vovó na cozinha fazendo o almoço de junto do fogão à lenha. Fogão de roça é bonito demais, queria saber fazer fogo com pedra, que nem os homens das cavernas. Mainha e vovó falando mal da dona do sítio vizinho que não dá banho nos filhos, você precisa ver, filha, o menino se arrastando no chão sujo, o outro com a frauda mijada, sei não, uma porca.
Vovó uma vez me contou de uma história de uma dona que deixou o bebê na rede na porta de casa. Não se pode fazer isso quando se criam porcos. Não é que um porco bem grande devorou o menininho, pobre criança, imagine o quanto não sofreu, e seus berros, buaaaa, buaaa.
Sertão é cheio de bicho, pra tudo que é lado. As rãs gélidas pulando em cima da gente na hora do banho, que a gente toma com água do poço. Buscar a água do poço é tão bom, imagine só eu descendo nessa balde até as profundezas, como será que é lá no fundo, ein? Daqui dá pra ver eu em meio à luz da noite na água negra. Tem alguém aí? Responde: tem alguém aí? A balde voltando, balança, força!
O que se esconde nas telhas à noite e foge de dia? Quem sabe. Há alguns pequenos buracos nas telhas, tomara que não chova, e que barulho é esse na cozinha? Mãe, você tá acordada? Eu é que não vou lá ver.
Foi tão bom passear de bicicleta, a jaca estava gostosa como o quê, será que vovó vai perceber que eu quebrei o abajur de gato dela? Como será que é nadar no poço? Homem bêbo enjoado aquele na cancela pedindo dinheiro pra comprar pinga. Ele tava batendo na mulher, eu ouvi os gritos, aquela que minha mãe disse que era porca, mandando o homem bêbo da cancela parar. Alguns filhos dele vivem carregando baldes bem grandes na cabeça, e ele trabalha numa fazenda até não sei que horas da noite.
Verde da cor do mato, uma cobra verde! Mamãe uma cobra verde no telhado, mamãaae! Acorda, José, uma cobra no telhado. Não acredito, uma cobra? Mata, mata! A gente vai pendurar ela na cerca, ein, ein? Agora deu pra dar cobra nesse sítio, ta beleza, meu Deus! Não posso nem ter sossego. Todo mundo pra lá e pra cá, um aperreio. Tio Augusto matou a cobra com um pedaço de pau e se empertigou todo fazendo cara de que não era grande coisa. Vou levar essa cobra pro laboratório de ciências lá da escola.
Um homem negro e forte sem camisa andando numa bicicleta vermelha, bêbado de álcool e infelicidade, cantando alguma canção em álcoolês, cuidado com o poste. Vermelho e azul, vermelho e azul, caras de desprezo cheias de autoridade em olhares altivos nas janelas do carro, fardas, cacetete, armas. O que foi que eu fiz, doutor, eu sou pai de família. Cê é malandro que eu tô ligado.
sexta-feira, dezembro 23, 2005
Quem tem medo de James Joyce?

Bem longe de querer fazer uma análise da obra de James Joyce, o que está a anos-luz da minha capacidade intelectual, venho aqui para romper com o elitismo que ronda Ulisses, mistificando a maior obra da literatura mundial no século XX, e certamente um divisor de águas em termos de narração.
Joyce introduziu a técnica do fluxo de consciência, em que o narrador expõe o monólogo interior do personagem, com lembranças da infância, idéias desconexas, laborando personagens com uma complexidade abismal. Influenciado pela descoberta do inconsciente realizada por Freud, James Joyce arquiteta reflexões e universos oníricos antes jamais vistos na literatura.
A criação de James Joyce encontra o universal no particular, quando ele tem uma obra onde se cristalizam aspectos de uma rígida educação católica na cidade irlandesa de Dublin, ao mesmo tempo em que trata de temas comuns a toda a humanidade.
Ele constrói personagens com mais íntimo de si, tocando a convergência com a consciência humana.
Por que é tão difícil ler James Joyce? Bem, é fato que o autor traz uma gama muito vasta de referências em sua obra-prima Ulisses. Ele usa expressões em latim, anglo-saxônicas, passagens da bíblia, versos de diversos poetas ingleses, uma constante alusão a Hamlet, de Shakespeare, e a outro livro de Joyce, Um Retrato do artista quando jovem, fora que Ulisses é uma paródia da Odisséia, de Homero, e por aí vai. Para completar, o autor chega a ter a audácia de inventar palavras, às vezes asquerosas, como “verdemeleca”, usada em uma passagem por Stephen Dedalus para descrever a cor do mar.
Deixando de lado grande parte dos enigmas de que se encarregarão os especialistas para elucidar a obra de Joyce, nós como meros mortais podemos sim apreciar a arte desse magnífico escritor. Enquanto leio Joyce, percebo que ele não é autor para se ler. É para penetrar nas veias, misturando-se com o sangue e com a alma, perdendo-se no não-lugar da hipnose das palavras que nos aparecem como um sonho em figuras eternas. O próprio James Joyce fala em uma passagem de Ulisses:
“Você acha minhas palavras obscuras. A escuridão está em nossas almas, você não acha? Mais aflautado. Nossas almas, feridas pelas vergonhas de nossos pecados se aferram ainda mais a nós, uma mulher se apega a seu amante, mais e mais”
Joyce declara assim que a obscuridade dos seus dizeres, a forma como seu texto se constrói de maneira abstrusa, é constituído em harmonia com a linguagem das nossas almas envoltas em processos de contradição entre id e superego, “as vergonhas de nossos pecados”, mediados pelo ego. Acredito que a maior riqueza do texto esteja aí, no desafio lançado por Joyce às nossas almas, e não no elitismo castrador e restritivo. Claro que é muito bom reconhecer a relação de Ulisses com outras grandes obras da literatura mundial, mas restringir-se a isso é intelectualismo arrogante que deslegitima os objetivos da autêntica arte sublimatória. A arte que liberta os sentidos no universo do sem fim nem começo na inelutável modalidade das paixões.
segunda-feira, dezembro 19, 2005
Verde, amarelo, vermelho
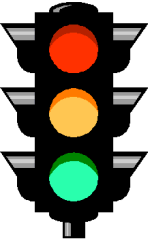
Minha casa é a rua, rua dos carros que correm com gente suada gritando e buzinando nos sinais. Dos vidros sujos do carro dá pra ver o cansaço, e quando estendo a mão são algumas míseras moedas dadas com displicência e um olhar sutilmente hostil. Verde, amarelo, vermelho, aprendi a contar o tempo no ritmo das cores.
Na padaria, peço dez pães a uma moça gorda com vestido vermelho e óculos na ponta do nariz, escondida atrás do vidro em que está fixado o aviso “fiado só em 3005”. Ela me olha de soslaio deixando os óculos escorregar e quase cair no chão, até levantá-lo com ar de soberba desenhado por uma de suas sobrancelhas erguida.
Vou comer meu almoço na parte onde fica repleta de água suja quando a maré está cheia, mas agora está seca, lá na 13 de julho. Prefiro rasgar a sacola de pães a desfazer os nós porque a fome tem pressa, e como o primeiro pão com medo de que ele fuja. Reconheço os pés sujos em sandálias havaianas pretas gastas, as pernas cheias de hematomas, o short azul, o umbigo grande, os braços fortes, João!
- Me dê esse rango aí vá!
- É o meu almoço.- disse num misto de indignação e medo.
- Tu é ousado mermu né, Zé?
Lutei com todas as forças pra João não tomar o meu almoço. Mordi os dentes, vi minhas veias saltarem no braço. Mas João não estava só, e ele mais seu bando me roubaram aqueles pães bem branquinhos e cheios de miolos, do jeito que eu gosto. Os pães caíram na areia, e eles se lambuzaram de pão e mar. Eu caído no chão chorava de ódio os padecimentos.
Eles eram cinco, e vieram um por um, começando por João, que rasgou o meu short. Eu ali não era homem, com a faca querendo rasgar meu pescoço, eu ali era qualquer coisa sem Deus. Depois eles foram correndo pela areia, rindo e me chamando de viado. Por que João fez isso comigo, se ele sabe da dor, se um dia um corsa fez isso com ele também?
Olha a maré, baixa como o quê, o céu azulado bonito que só onde dizem que está Deus. E ele não tá vendo de lá, não? Ele me largou tão só nesse mundo, qualquer um me pega, me bate, me leva não sei pra onde.
- Que é que você tá fazendo aí, trombadinha? Eu mandei você limpar o vidro do meu carro?
Crônica criada a partir de um relato real contado por minha mãe que viu da sacada do prédio onde trabalha um menino de rua ser estuprado por outros mais velhos.
domingo, dezembro 18, 2005
Rimas de quem
Hoje não quero dizer
Só desdizer
O dito pelo não dito
Palavras feitas de puro querer
Palavras em olhares fontes
Deixando estar fico onde
Eu me deixo
Me permito
Esquecer
Rima bandida, desgraçada
Rima sem véu e sem nome
Assim como a vida que olhei nas cartas
Segue sem rumo com o céu no horizonte
Segue cantando para o sol da noite
Finda e renova no sonho de ontem.
Só desdizer
O dito pelo não dito
Palavras feitas de puro querer
Palavras em olhares fontes
Deixando estar fico onde
Eu me deixo
Me permito
Esquecer
Rima bandida, desgraçada
Rima sem véu e sem nome
Assim como a vida que olhei nas cartas
Segue sem rumo com o céu no horizonte
Segue cantando para o sol da noite
Finda e renova no sonho de ontem.
sábado, dezembro 17, 2005
Antíteses manoelescas
Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras
Sou formado em desencontros
A sensatez me absurda.
Os delírios verbais me terapeutam.
Posso dar alegria ao esgoto (palavra aceita tudo).
(E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas. Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que apareceu Flores do mal. A beleza e a dor. Essa antítese o acalmou.)
As antíteses congraçam.
Trecho retirado do Livro sobre nada, de Manoel de Barros, falando algo sobre mim.
Sou formado em desencontros
A sensatez me absurda.
Os delírios verbais me terapeutam.
Posso dar alegria ao esgoto (palavra aceita tudo).
(E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas. Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que apareceu Flores do mal. A beleza e a dor. Essa antítese o acalmou.)
As antíteses congraçam.
Trecho retirado do Livro sobre nada, de Manoel de Barros, falando algo sobre mim.
As cartas de José
Durante muito tempo, eu sempre recebia cartas de José. Ele me escrevia umas três vezes por semana, geralmente no domingo, na quarta, e na sexta. José era um homem de poucas palavras. Existem aqueles que pouco falam porque sintetizam muito e com perfeição as idéias verbalizadas, e há aqueles que escondem seus pensamentos em frases curtas. José fazia parte do segundo grupo.
Ele era um ermitão, com seus trinta e poucos anos não vividos, e morava numa casa amarela cheia de janelas com seu enorme cachorro. Raras eram as vezes em que eu ia no interior visitar José, e eu detestava quando ele dizia não tenha medo de Jack, ele não morde, veja como ele é bobão. Lembro-me do dia em que Zé ganhou Jack de uma antiga namorada dele no seu aniversário, e não sei, com o tempo o cão foi ficando parecido com ele. Aquele cachorro que antes estava sempre pulando e correndo, agora vivia deitado no tapete com os olhos derramados no horizonte.
Quando eu dizia que ia voltar para casa, José inventava doença, deitava na cama e segurava minha mão com triste candura. Ele mergulhava a cabeça no travesseiro fingindo esconder o choro, para que eu o puxasse e acariciasse suas lágrimas. Bebia todos os licores e ia correndo vomitar no quarto onde eu dormia, na minha frente, para me ver limpar o seu vômito no chão como alguém que cuida. José nunca se despedia de mim, ficava olhando para a televisão como se fitasse algo além. Tchau, primo, fique bem.
No domingo, eu recebi uma carta: “Jack está comendo pouco; não sei o que fazer”. Na quinta, eu recebi outra: era uma folha de papel branca de silêncio. O que estava acontecendo? Por que José parou de me escrever? Fiquei muito preocupada e acabei adiantando uma folga só pra ir visitar o meu primo em Caxanguinha.
Chegando lá, ninguém veio atender a porta. Gritei não sei quantas vezes, mas só o vão da noite me respondia. Caminhei auscultando em redor da casa, até que encontrei uma janela indo e voltando pelo vento. Todas as luzes estavam acesas, menos a do quarto onde eu costumava dormir. Quando acendi a luz, encontrei José estendido no chão ao lado de garrafas sem licores e várias caixas de remédio vazias. Jack estava deitado na cama, e se ergueu abruptamente com as pernas bem esticadas e os olhos arregalados. Ele nem pulou em cima de mim, só deitou-se de novo na cama com uma indiferença lúgubre.
Apesar de detestar animais, não tive coragem de deixar Jack sozinho. Trouxe-o para casa contra as vontades do meu marido. Era sempre eu quem colocava a comida para Jack, e com o tempo comecei a amá-lo quando me vi tão preocupada porque ele não queria comer. Certo dia, encontrei-o morto quando voltei do trabalho. Chorei convulsivamente, para surpresa do meu marido, pois eu não havia derramado uma lágrima no enterro de José. Chorei agarrando os seus pêlos, José, por que fez isso comigo, José?
Ele era um ermitão, com seus trinta e poucos anos não vividos, e morava numa casa amarela cheia de janelas com seu enorme cachorro. Raras eram as vezes em que eu ia no interior visitar José, e eu detestava quando ele dizia não tenha medo de Jack, ele não morde, veja como ele é bobão. Lembro-me do dia em que Zé ganhou Jack de uma antiga namorada dele no seu aniversário, e não sei, com o tempo o cão foi ficando parecido com ele. Aquele cachorro que antes estava sempre pulando e correndo, agora vivia deitado no tapete com os olhos derramados no horizonte.
Quando eu dizia que ia voltar para casa, José inventava doença, deitava na cama e segurava minha mão com triste candura. Ele mergulhava a cabeça no travesseiro fingindo esconder o choro, para que eu o puxasse e acariciasse suas lágrimas. Bebia todos os licores e ia correndo vomitar no quarto onde eu dormia, na minha frente, para me ver limpar o seu vômito no chão como alguém que cuida. José nunca se despedia de mim, ficava olhando para a televisão como se fitasse algo além. Tchau, primo, fique bem.
No domingo, eu recebi uma carta: “Jack está comendo pouco; não sei o que fazer”. Na quinta, eu recebi outra: era uma folha de papel branca de silêncio. O que estava acontecendo? Por que José parou de me escrever? Fiquei muito preocupada e acabei adiantando uma folga só pra ir visitar o meu primo em Caxanguinha.
Chegando lá, ninguém veio atender a porta. Gritei não sei quantas vezes, mas só o vão da noite me respondia. Caminhei auscultando em redor da casa, até que encontrei uma janela indo e voltando pelo vento. Todas as luzes estavam acesas, menos a do quarto onde eu costumava dormir. Quando acendi a luz, encontrei José estendido no chão ao lado de garrafas sem licores e várias caixas de remédio vazias. Jack estava deitado na cama, e se ergueu abruptamente com as pernas bem esticadas e os olhos arregalados. Ele nem pulou em cima de mim, só deitou-se de novo na cama com uma indiferença lúgubre.
Apesar de detestar animais, não tive coragem de deixar Jack sozinho. Trouxe-o para casa contra as vontades do meu marido. Era sempre eu quem colocava a comida para Jack, e com o tempo comecei a amá-lo quando me vi tão preocupada porque ele não queria comer. Certo dia, encontrei-o morto quando voltei do trabalho. Chorei convulsivamente, para surpresa do meu marido, pois eu não havia derramado uma lágrima no enterro de José. Chorei agarrando os seus pêlos, José, por que fez isso comigo, José?
quinta-feira, dezembro 15, 2005
Rito de passagem
Há tempos em que a gente vive de acaso
Andando sem olhar para os lados
Como se já soubesse o caminho
Mas na verdade estamos perdidos
E há tempos em que o acaso é deixado de lado
E tomamos o controle das nossas vidas
Mas elas parecem tão pequeninas
Em seu berço leve e frágil
Choramos por já não vivermos mais
Só controlamos
Esperando saltar pelo ar
Mas o ar é mais pesado quando saltamos
Nesses tempos perdemos a inocência, os ideais
Eu comecei passando de acreditar em outros possíveis mundos nesta terra
A não acreditar em nada
Mas eu agarrava o nada como um último suspiro do que eu era
Agora o nada me serve sem que eu saiba
Neste mundo a tristeza é fazer o que não se quer
É estar onde não se encaixa
E sufocar todos os quereres
Para que o eu caiba
Onde fui escolhida para estar
É aí onde morrem os versos
Quando a vida fica sem poesia
Quando a gente se enterra com uma pá de inércia todos os dias
Pra depois alguém nos enterrar
Andando sem olhar para os lados
Como se já soubesse o caminho
Mas na verdade estamos perdidos
E há tempos em que o acaso é deixado de lado
E tomamos o controle das nossas vidas
Mas elas parecem tão pequeninas
Em seu berço leve e frágil
Choramos por já não vivermos mais
Só controlamos
Esperando saltar pelo ar
Mas o ar é mais pesado quando saltamos
Nesses tempos perdemos a inocência, os ideais
Eu comecei passando de acreditar em outros possíveis mundos nesta terra
A não acreditar em nada
Mas eu agarrava o nada como um último suspiro do que eu era
Agora o nada me serve sem que eu saiba
Neste mundo a tristeza é fazer o que não se quer
É estar onde não se encaixa
E sufocar todos os quereres
Para que o eu caiba
Onde fui escolhida para estar
É aí onde morrem os versos
Quando a vida fica sem poesia
Quando a gente se enterra com uma pá de inércia todos os dias
Pra depois alguém nos enterrar
quarta-feira, dezembro 14, 2005
Pequeno retrato
Nunca vislumbrei
No momento exíguo,
No dia contigo,
O dia contíguo
Sempre desprezei
A estrela sinistra,
O falso zodíaco,
A esfera de cristal
E o terceiro aviso
Do galo matinal
Como submeter
O desejo ao fado
Se todo prazer
Ri da cautela,
Ri do cuidado,
Que o quer prender?
Vou despreocupado,
Dora, tão despreocupado,
Que nem sei morrer
Poema encontrado por acaso no dia de hoje no livro de José Paulo Paes.
No momento exíguo,
No dia contigo,
O dia contíguo
Sempre desprezei
A estrela sinistra,
O falso zodíaco,
A esfera de cristal
E o terceiro aviso
Do galo matinal
Como submeter
O desejo ao fado
Se todo prazer
Ri da cautela,
Ri do cuidado,
Que o quer prender?
Vou despreocupado,
Dora, tão despreocupado,
Que nem sei morrer
Poema encontrado por acaso no dia de hoje no livro de José Paulo Paes.
Ele não te ama, mas eu sim, mamãe
Onde está mamãe com os seus gritos? Faz horas que estou aqui embaixo conversando com meus amigos e nada do rosto dela aparecer na janela como uma sombra. Aprendi a amá-la assim, e agora se ela não gritar o meu nome com cólera penso que ela me esqueceu.
Volta e meia enquanto converso eu fito a janela. Um dia desses, ela me deu uma surra de cinto porque saí numa das madrugadas que ela passa de plantão no hospital. Quando me perguntou se o que meu irmão havia dito era verdade, se eu tinha mesmo ido pra um desses shows cheios de putas, malandros, cachaça, neguei, tudo mentira de Daniel. Ela me deu uma surra de mágoas, e a ira com que levantava o cinto imperiosa, era o gesto que reprimia as lágrimas da sua própria dor e a transformava em violência cáustica arrasando minha pele sem dono.
Não chorei enquanto apanhava para não lhe dar o gosto das pancadas. Fui chorar depois escondida no quarto. Ela foi atrás de mim pedindo perdão, e me incomodava tê-la por perto participando da esfera da minha tristeza, coisa tão íntima, e distantes éramos nós. Filha, mamãe não gosta de bater em você, mas você faz raiva à mamãe, não me faça raiva, não. Disse puxando o meu braço como se pra me fazer parar de chorar fosse preciso me dar outra surra.
Depois ela foi chorar no seu quarto. Eu a encontrei vulnerável e estendida em padecimentos naquela cama onde dormia sozinha e havia sido feita pra dois. A imagem daquela mulher amargurada me lembrou a paixão louca que ela sentiu por meu pai. Ah, como o cheiro dele na cama fazia falta para ela, como acordar todos os dias sem ele a deixava com aquele semblante absorto naquelas melancólicas brincadeiras com a comida que iria deixar no prato.
Às vezes meu pai pergunta por ela, querendo saber de sua vida e desejando que esteja mal. Não gosto quando ele faz essas perguntas, quem é ele pra falar mal da minha mãe? Ela que lho dedicou tanto amor, agora tão sofrida em suas palavras me falando pra não amar homem nenhum nessa terra. Ela que agora o odeia, ou odeia a existência dele livre da dela.
Filha, você é a minha vida, o que seria de mim sem você? Eu me preocupo tanto com você porque você é fêmea, minha menina, os outros são uns marmanjos, eles sabem se cuidar. Mas você é tão inocente, e eu não quero que você passe pelo que eu passei, meu amor. Mamãe te ama, viu? Entenda a mamãe, não faça raiva à mamãe...
Volta e meia enquanto converso eu fito a janela. Um dia desses, ela me deu uma surra de cinto porque saí numa das madrugadas que ela passa de plantão no hospital. Quando me perguntou se o que meu irmão havia dito era verdade, se eu tinha mesmo ido pra um desses shows cheios de putas, malandros, cachaça, neguei, tudo mentira de Daniel. Ela me deu uma surra de mágoas, e a ira com que levantava o cinto imperiosa, era o gesto que reprimia as lágrimas da sua própria dor e a transformava em violência cáustica arrasando minha pele sem dono.
Não chorei enquanto apanhava para não lhe dar o gosto das pancadas. Fui chorar depois escondida no quarto. Ela foi atrás de mim pedindo perdão, e me incomodava tê-la por perto participando da esfera da minha tristeza, coisa tão íntima, e distantes éramos nós. Filha, mamãe não gosta de bater em você, mas você faz raiva à mamãe, não me faça raiva, não. Disse puxando o meu braço como se pra me fazer parar de chorar fosse preciso me dar outra surra.
Depois ela foi chorar no seu quarto. Eu a encontrei vulnerável e estendida em padecimentos naquela cama onde dormia sozinha e havia sido feita pra dois. A imagem daquela mulher amargurada me lembrou a paixão louca que ela sentiu por meu pai. Ah, como o cheiro dele na cama fazia falta para ela, como acordar todos os dias sem ele a deixava com aquele semblante absorto naquelas melancólicas brincadeiras com a comida que iria deixar no prato.
Às vezes meu pai pergunta por ela, querendo saber de sua vida e desejando que esteja mal. Não gosto quando ele faz essas perguntas, quem é ele pra falar mal da minha mãe? Ela que lho dedicou tanto amor, agora tão sofrida em suas palavras me falando pra não amar homem nenhum nessa terra. Ela que agora o odeia, ou odeia a existência dele livre da dela.
Filha, você é a minha vida, o que seria de mim sem você? Eu me preocupo tanto com você porque você é fêmea, minha menina, os outros são uns marmanjos, eles sabem se cuidar. Mas você é tão inocente, e eu não quero que você passe pelo que eu passei, meu amor. Mamãe te ama, viu? Entenda a mamãe, não faça raiva à mamãe...
segunda-feira, dezembro 12, 2005
A vida pode até ser triste, mas é sempre bela
Atualmente, meu filme preferido é Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard. Eu me encantei completamente por essa película, não como se ela fosse meras imagens na tela, mas tivesse uma vida própria. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma frase dita por Pierrot, interpretado pelo adorável Jean Paul Belmondo: “A vida pode até ser triste, mas é sempre bela”.
Acho que se fosse para definir a minha visão de mundo em uma frase, eu usaria essa. Em minha sensibilidade exacerbada, estou sempre vendo as coisas com uma lente que torna tudo gigante, e eu fico me sentindo pequenina, mas querendo subir no pé de feijão. Tudo se torna tão inebriante, cada som, imagem, toque, levam para alguma poesia dentro de mim, dentro do mundo.
Sinto tanto tudo o que me rodeia que às vezes dói. É como se eu estivesse sempre parindo vida, e a dor do parto é tão intensa. A beleza do mundo é uma beleza triste, um encantamento que vem de tudo que é insaciável, a criança chorando porque não consegue andar, fica caindo e encostando-se nas paredes da casa.
Às vezes a vida é tão gostosa, que me sinto mergulhando naquela piscina cheia de bolas coloridas, surgindo de lá do fundo triunfante e jogando as bolas pra cima. E ela às vezes é triste como um pintor que perdeu a visão, mas até aí ela é bela. Sim, porque em toda tristeza há uma saudade da vida, e nessa saudade se constitui a sua própria beleza, um querer sempre mais, e os quadros feitos com pinceladas que a gente não vê, mas sente.
A vida pode até ser triste, mas é sempre bela, porque ela é arte, arte dos homens que inventaram Deus e o amor.
Acho que se fosse para definir a minha visão de mundo em uma frase, eu usaria essa. Em minha sensibilidade exacerbada, estou sempre vendo as coisas com uma lente que torna tudo gigante, e eu fico me sentindo pequenina, mas querendo subir no pé de feijão. Tudo se torna tão inebriante, cada som, imagem, toque, levam para alguma poesia dentro de mim, dentro do mundo.
Sinto tanto tudo o que me rodeia que às vezes dói. É como se eu estivesse sempre parindo vida, e a dor do parto é tão intensa. A beleza do mundo é uma beleza triste, um encantamento que vem de tudo que é insaciável, a criança chorando porque não consegue andar, fica caindo e encostando-se nas paredes da casa.
Às vezes a vida é tão gostosa, que me sinto mergulhando naquela piscina cheia de bolas coloridas, surgindo de lá do fundo triunfante e jogando as bolas pra cima. E ela às vezes é triste como um pintor que perdeu a visão, mas até aí ela é bela. Sim, porque em toda tristeza há uma saudade da vida, e nessa saudade se constitui a sua própria beleza, um querer sempre mais, e os quadros feitos com pinceladas que a gente não vê, mas sente.
A vida pode até ser triste, mas é sempre bela, porque ela é arte, arte dos homens que inventaram Deus e o amor.
domingo, dezembro 11, 2005
Pierrot, não! Meu nome é Ferdinand!

Após o suicídio de Ferdinand, que era Pierrot até ser traído por sua amada Marianne e tê-la assassinado, a lente de Godard flutua perante o oceano banhado de sol. A voz de Marianne, a que enaltecia as paixões e a música, triunfa ao final do filme falando sobre a morte de Pierrot, o defensor da literatura e das idéias acima da música e da Natureza.
“O que é isso, a eternidade? Não, é só o mar e o sol”.
Kika, de Pedro Almodóvar

Nesta película, Almodóvar trata do voyeurismo, faz uma crítica à sociedade do espetáculo, e até coloca o feminismo em cheque.
E para falar de voyeurismo, Almodóvar não poderia deixar de lembrar Janela Indiscreta, clássico de Hitchcock. Ele está o tempo inteiro brincando com o espectador, que por vezes pensa estar vendo uma determinada cena pelas lentes do diretor, quando na verdade é pelo olhar de um voyeur, com ambientações que lembram muito o Janela Indiscreta. Almodóvar trata o espectador como um voyeur, e o cinema como uma brincadeira de voyeurismo em que espionamos a realidade diegética dos personagens.
Nicholas Pierce escreve um livro sobre um escritor que matou sua esposa e afirma ter ela se suicidado para escapar das grades. Pierce diz num programa de TV que escreveu esse livro inspirado nas acusações feitas a ele depois da morte de sua mulher. No decorrer do filme, a desconfiança do espectador irá se confirmar: Pierce realmente matou sua esposa.
Algo intrigante é Almodóvar ter colocado Nicholas Pierce como jornalista e americano, sendo os Estados Unidos o grande centro da indústria cultural. E Pierce é um típico psicopata, que confunde realidade e fantasia, fazendo dos seus crimes inspiração para livros best-seller. A confusão entre real e imaginário é um sintoma da própria sociedade do espetáculo, e Pierce se apresenta no filme como símbolo dela.
Há uma cena em que Kika está sendo estuprada por Paul Bazzo, um ator pornô irmão de sua empregada Juana. A ousadia da cena está em mostrar Kika agindo como se o estupro não tivesse grande importância. Em outro momento do filme, ela havia transado com seu noivo cataléptico Ramón, e ele era tão voyeur que tinha fetiche por tirar fotos enquanto fazia sexo. Durante o estupro, Kika se comporta de forma muito semelhante a quando transa com Ramón, o mesmo olhar, a mesma falta de prazer, a mesma submissão, e ela até fica esperando ele gozar, pois Paul afirma que seu recorde era ter quatro orgasmos numa única relação.
Só que Almodóvar não vem com aqueles feminismos chatos e maniqueístas. Ele torna tudo muito mais complexo. Ramón é por vezes tão submisso à Kika, que o trai com seu pai Nicholas Pierce, e ele finge não perceber. Almodóvar brinca tanto com o feminismo, que num primeiro momento pode parecer machista banalizando um estupro com humor negro, mas ele está falando da própria mulher que se banaliza como objeto.
O estupro de Kika é mostrado em rede nacional por Andréa Caracortada, apresentadora de um show de horrores na televisão. A gravação do estupro havia sido feita por Ramón, o noivo voyeur de Kika, que tinha obsessão por ficar espionando a vida dela do prédio vizinho. Dessa forma, Almodóvar critica o império do grotesco construído pela mídia, e o público que o alimenta, o público representado pelo próprio Ramón.
Almodóvar também coloca em questão relações familiares, fazendo surgir personagens cheios de dramas e angústias. A distância entre Pierce e Ramón é tão grande, que Kika nem sabia da relação de parentesco entre eles. Ramón tinha ciúme do amor obsessivo da mãe pelo seu pai, e o odiava porque acreditava que ele a havia matado. Almodóvar lida com o complexo de Édipo em seu personagem Ramón, que até fantasia com a morte de seu pai, dizendo a Kika que ele havia morrido degolado num acidente de carro.
Outra relação interessante é a de Juana com seu irmão Paul. Ela já havia sido estuprada por ele, e mesmo assim faz de tudo pelo irmão, até permitindo que ele entre na casa de sua patroa para cometer crimes em nome dos seus laços de sangue. Juana surge aos nossos olhos como uma mulher solitária que só tinha como família o seu irmão criminoso. Ela é lésbica, e Almodóvar coloca fora de questão a possibilidade de ela ser homossexual por causa de algum trauma deixado pelo incesto. Juana fala num tom altivo e impetuoso: “Que trauma coisa nenhuma! Nada como uma boa xoxota!”.
Enredos que se entrelaçam, crítica à sociedade, personagens aparentemente estereotipados, mas complexos, e relações tão complexas quanto, essa é dignamente uma típica película do genial Almodóvar. Um filme sarcástico com um ar brega que diverte o espectador sem deixar de ter uma intrigante reflexão.
sábado, dezembro 10, 2005
Para Julieta
Quando eu lhe disser fique, não vire a cara para mim. Quando eu lhe disser não vá, que o ficar não pareça mais duro do que o não ir, veja a lição das nossas faltas, e a graça dos nossos acertos.
Julieta, eu só peço que me entenda, mesmo isso sendo impossível até para mim mesmo. Eu nunca me entendi como seus olhos quando me fitam, sei lá onde eu me escondi dos seus exames, embaixo de um riso forçado, observando a mesa ou qualquer coisa que não fosse seu olhar.
Não Julieta, não entenda, nem queira entender. Nunca quis te amar, nem você nunca se amou ou quis amar você e eu, o par. Esse par tão inseguro, entre seguir por caminhos tão tortuosos melhor ser o ímpar, o singular.
Concordo com tudo que você disse. Não sou homem pra você, e você não é mulher pra ninguém, porém uma coisa só já fazia todo o sentido. Sou apenas um homem encantado com seus olhos arregalados, mas eu cheiro a sofrimento. E essa carta é borrada com lágrimas. Um beijo. Mateus.
Julieta, eu só peço que me entenda, mesmo isso sendo impossível até para mim mesmo. Eu nunca me entendi como seus olhos quando me fitam, sei lá onde eu me escondi dos seus exames, embaixo de um riso forçado, observando a mesa ou qualquer coisa que não fosse seu olhar.
Não Julieta, não entenda, nem queira entender. Nunca quis te amar, nem você nunca se amou ou quis amar você e eu, o par. Esse par tão inseguro, entre seguir por caminhos tão tortuosos melhor ser o ímpar, o singular.
Concordo com tudo que você disse. Não sou homem pra você, e você não é mulher pra ninguém, porém uma coisa só já fazia todo o sentido. Sou apenas um homem encantado com seus olhos arregalados, mas eu cheiro a sofrimento. E essa carta é borrada com lágrimas. Um beijo. Mateus.
quinta-feira, dezembro 08, 2005
O tempo e os sonhos
Estive me perguntando sobre o tempo que se passa enquanto sonhamos. Acredito que o tempo seja uma ilusão com a qual brincamos de entender o andar do mundo, uma concepção subjetiva que nos conduz no universo das coisas e dos sentidos, e dos sentidos das coisas.
Um indivíduo ao usar ópio pode aumentar em dez, até sessenta vezes, o tempo que decorre na sua mente. Então imagine como seria o universo onírico. Sim, porque enquanto o mundo se constrói e se destrói na realidade objetiva de tal maneira, qual forma de tempo se passa na mente daquele que sonha, percorrendo espaços oníricos imiscíveis, vivendo incríveis histórias em questão de poucas horas?
Sabemos que é impossível medir o tempo onírico, e ele faz parte da nossa inconsciência, tão distante da consciência que mede o tempo objetivo. São formas de realidade por demais abstrusas para serem compreendidas pelas nossas limitadas faculdades. Entretanto, uma coisa parece se mostrar certa: o tempo da mente daqueles que se encontram no sonho não é o mesmo dos que estão de vigília.
Quais seriam os limites do tempo onírico? Imagine o quanto a mente num estado de sonho poderia ousar e recriar o tempo. Ele não seria necessariamente nem maior nem menor, mas teria um movimento próprio, posto que a forma como a nossa mente sente o tempo sofre influências da realidade exterior, e no sonho o indivíduo só está em contato consigo mesmo.
Os relógios dos nossos sonhos são tão somente nossos e criados por nós mesmos. Nós passeamos para aqui e para ali, e ao fim de tudo para lugar nenhum que se possa determinar. Encontramo-nos em um não-lugar, ou na poesia da nossa inconsciência.
Um indivíduo ao usar ópio pode aumentar em dez, até sessenta vezes, o tempo que decorre na sua mente. Então imagine como seria o universo onírico. Sim, porque enquanto o mundo se constrói e se destrói na realidade objetiva de tal maneira, qual forma de tempo se passa na mente daquele que sonha, percorrendo espaços oníricos imiscíveis, vivendo incríveis histórias em questão de poucas horas?
Sabemos que é impossível medir o tempo onírico, e ele faz parte da nossa inconsciência, tão distante da consciência que mede o tempo objetivo. São formas de realidade por demais abstrusas para serem compreendidas pelas nossas limitadas faculdades. Entretanto, uma coisa parece se mostrar certa: o tempo da mente daqueles que se encontram no sonho não é o mesmo dos que estão de vigília.
Quais seriam os limites do tempo onírico? Imagine o quanto a mente num estado de sonho poderia ousar e recriar o tempo. Ele não seria necessariamente nem maior nem menor, mas teria um movimento próprio, posto que a forma como a nossa mente sente o tempo sofre influências da realidade exterior, e no sonho o indivíduo só está em contato consigo mesmo.
Os relógios dos nossos sonhos são tão somente nossos e criados por nós mesmos. Nós passeamos para aqui e para ali, e ao fim de tudo para lugar nenhum que se possa determinar. Encontramo-nos em um não-lugar, ou na poesia da nossa inconsciência.
segunda-feira, dezembro 05, 2005
Beverly Hills?
As cadeiras nas portas e os olhares seguindo os passos do meu grupo de amigos lembram muito a atmosfera do interior. Não, não é uma cidadezinha nos confins de Sergipe, é o bairro Augusto Franco. A maior parte de seus moradores se diverte como nos pequenos municípios, e as praças ficam cheias de gente à noite, cantando em videokê, tomando uma cervejinha, vendo jogo de futebol pelas lentes da Globo, ou comendo algum sanduíche vagabundo.
Passeio pela periferia de Aracaju e fico admirada com o ar de tranqüilidade dos moradores do bairro, tão indolentes em suas cadeiras no meio da rua falando da vida alheia e auscultando os que passam. Depois de algumas horas, lá pras duas da manhã, as ruas ficam vazias, com uma ou outra pessoa vagando nos bares das praças, e meus amigos dizem que está tudo sob controle, “estamos em Beverly Hills”. Beverly Hills? Sim, isso mesmo, eles comparam o Augusto Franco àquele bairro de ricos que teve até um seriado homônimo na TV.
Nessa hora eu me lembro dos ricos, não daqueles distantes de nós lá nos States, mas dos que ficam bem pertinho, aqui no eixo Luzia-Jardins-Grageru-13 de Julho, onde moro por atrevimento na Adélia Franco. Bem, eu diria que os ricos não vivem em paz. Nas minhas andanças madrugada adentro, o que vejo nas suntuosas casas na 13 de julho são cercas elétricas denunciando o medo, e cães de guarda furiosos ladrando em varandas como se fossem saltar sobre nossas cabeças.
Entretanto, engana-se quem pensa que estou dizendo que a periferia, até porque o Augusto Franco nem é a genuína periferia de Aracaju, é o paraíso, e o olimpo das elites é o verdadeiro inferno. Não me esqueço de quando estava no Terminal D.I.A. e, certa vez, escutei uma senhora suada e cheia de sacolas falando da barbárie que tomava conta do seu bairro, o Padre Pedro. Ela disse que quase toda noite ouvia falar de facadas, muitas vezes em conhecidos seus, e a calamidade chegara a tal ponto, que famílias eram brindadas com cabeças de parentes nas suas portas. Aquela mulher falava num tom de horror, indignação, e descrença, uma combinação bastante comum em gente tão sofrida e sem ter a quem recorrer.
Nos vãos das noites de Aracaju, os ricos se aprisionam a sete chaves diante da desigualdade irrefreável, alguns pobres se divertem em seu mundo fantasioso interiorano achando que não têm nada a perder, e outros vivem do medo das facas. Há portas onde há gente em cadeiras sentada, outras com grades e cercas de choques, e ainda aquelas presenteadas com cabeças. E tudo é Beverly Hills. Será?
Passeio pela periferia de Aracaju e fico admirada com o ar de tranqüilidade dos moradores do bairro, tão indolentes em suas cadeiras no meio da rua falando da vida alheia e auscultando os que passam. Depois de algumas horas, lá pras duas da manhã, as ruas ficam vazias, com uma ou outra pessoa vagando nos bares das praças, e meus amigos dizem que está tudo sob controle, “estamos em Beverly Hills”. Beverly Hills? Sim, isso mesmo, eles comparam o Augusto Franco àquele bairro de ricos que teve até um seriado homônimo na TV.
Nessa hora eu me lembro dos ricos, não daqueles distantes de nós lá nos States, mas dos que ficam bem pertinho, aqui no eixo Luzia-Jardins-Grageru-13 de Julho, onde moro por atrevimento na Adélia Franco. Bem, eu diria que os ricos não vivem em paz. Nas minhas andanças madrugada adentro, o que vejo nas suntuosas casas na 13 de julho são cercas elétricas denunciando o medo, e cães de guarda furiosos ladrando em varandas como se fossem saltar sobre nossas cabeças.
Entretanto, engana-se quem pensa que estou dizendo que a periferia, até porque o Augusto Franco nem é a genuína periferia de Aracaju, é o paraíso, e o olimpo das elites é o verdadeiro inferno. Não me esqueço de quando estava no Terminal D.I.A. e, certa vez, escutei uma senhora suada e cheia de sacolas falando da barbárie que tomava conta do seu bairro, o Padre Pedro. Ela disse que quase toda noite ouvia falar de facadas, muitas vezes em conhecidos seus, e a calamidade chegara a tal ponto, que famílias eram brindadas com cabeças de parentes nas suas portas. Aquela mulher falava num tom de horror, indignação, e descrença, uma combinação bastante comum em gente tão sofrida e sem ter a quem recorrer.
Nos vãos das noites de Aracaju, os ricos se aprisionam a sete chaves diante da desigualdade irrefreável, alguns pobres se divertem em seu mundo fantasioso interiorano achando que não têm nada a perder, e outros vivem do medo das facas. Há portas onde há gente em cadeiras sentada, outras com grades e cercas de choques, e ainda aquelas presenteadas com cabeças. E tudo é Beverly Hills. Será?
sábado, dezembro 03, 2005
Perigosamente apaixonados

Poesias, cartas, lágrimas por filmes, flores, sonhos, palavras insanas. O universo daqueles que se apaixonam fácil e exageradamente é tão belo e frágil como uma enorme casa de vidro a beira mar. Estar apaixonado para eles é um estado narcótico. É como andar na corda bamba e transformar a vida num mundo fantástico.
Aqueles que se apaixonam fácil são pessoas intensas, alcoólatras, fumantes, compulsivos das mais variadas formas, apaixonados... Eles estão sempre em busca do ópio que os libertará das amarras da realidade pusilânime. Só que o eterno dilema dos perigosamente apaixonados é que eles não se apaixonam pelo outro, mas pela própria paixão.
Então eles acabam não gostando de ninguém. E esse fogo todo que arde sem se ver nasce da ausência de si mesmo, do não se gostar e estar sempre em busca daquele que irá gostar em seu lugar. Aí está o grande problema. Ninguém veio ao mundo para salvar ninguém, e quando o indivíduo não gosta de si mesmo, não tem essa, fudeu. Vai se deparar com toda forma de humilhação, falta de respeito, descaso, e uma série de torturas que só vão fazer aquele que não se ama, amar-se menos ainda.
E por não se gostar e perceber a displicência do objeto amado, ele inconscientemente acha que só irá conseguir conviver consigo mesmo se o outro se unir a esse seu eu perdido no mundo. Na incrível maioria das vezes a paixão não correspondida resulta em desprezo, e esse desprezo é recebido pelo apaixonado como uma distância, uma forma de tornar o amor platônico, mesmo quando a relação carnal está envolvida.
Pessoas assim sofrem muito. Quando se deparam com um tipo igual ao seu, a intensidade dos dois tende a levar a uma relação explosiva, uma catástrofe eu diria. Quando conhecem alguém que leve mais tempo para se apaixonar, inquietam-se e ficam insaciáveis e inseguros.
É difícil encontrar alguém que veja beleza nas suas loucuras, e que acompanhe a sua cadência histérica formando um belo conjunto. Na maioria das vezes, o que acontece é só o desprezo, o descaso, a falta de carinho. E os perigosamente apaixonados descobrem que a fórmula para acabar com a solidão não era essa, que tantas vezes tinham alguém ao seu lado e estavam tão só, completamente só, com suas angústias, seus medos, e seus afetos não correspondidos.
Talvez um dia descubram a afável aventura de se apaixonar por si mesmos, e desvendem tantas outras incríveis paixões ao seu redor, outras formas de amor, arte... Não para poder encontrar alguém, mas para conseguirem conviver consigo mesmos. Aí eles não vão se sentir tão desconfortáveis com a solidão, e se tiverem alguém ao seu lado, não vai ser buscando o pedaço que falta, mas crescendo juntos e vivendo um simples e modesto bem estar, a calma.
sexta-feira, dezembro 02, 2005
Uma criança apenas
Os cacos de vidro se espalham no chão como se cortassem a minha garganta. O pavor dos meus olhos não esconde, meu pai sabia que eu havia feito algo de errado. Ele corre para a sala com passos imperiosos, uma ira saciada pela delícia de me ver em prantos nos seus braços. Seus olhos deslizam delirantes pelos cacos, sua voz soa entre cuspes ameaçadora, e eu sucumbo às suas mãos gigantes, que capturam-me como águia, e me surram como se isso fosse o seu próprio gozo. Depois me deixava lá, estendida no sofá me revolvendo em dores, e batia a porta para seguir para o trabalho, ou ir aos bares, quem sabe.
Eu não derramava uma única lágrima, eu não daria esse gosto a ele. Agora fico aqui, com os movimentos imobilizados pelo ódio, mordendo os lábios e sentindo um pouco do meu sangue. Hoje faço treze anos, e ele nem se lembrou. Só me deu uma surra porque quebrei um vaso ordinário. Se ninguém se lembra de mim, quem garante que eu existo mesmo? E agora nem consigo me levantar depois da surra que meu pai me deu com a vassoura que eu limpava a casa. Maldita casa.
O gelo dói no corpo, mas dói pra depois me saciar com a calma. Tomo vários anti-inflamatórios sem nenhuma prudência, mas nunca me preocupei muito com minha saúde, e talvez eu dormisse muito. O sono não chega. Meu ódio queria enfiar aquela faca no meu pai.
Um homem do prédio em frente me observa deitada no sofá com meu pequeno camisola rosa meio transparente, justo no momento em que eu estava com as pernas abertas para o ar. Baixo as pernas assim de repente num susto. O homem era bonito, e casado, eu sabia. Devia ter seus trinta anos. Ele me contemplava com um desejo violento, e eu sentia os seus olhos caminhando pelas minhas pernas, pelos meus pequenos seios, pela minha intocada vagina. Eu tinha o semblante enfermo, pálido, e hematomas na pernas, mas isso não o incomodava. Ele só se embriagava na minha virgindade hostil.
Liguei o som. Vim caminhando na direção dele enquanto levantava delicadamente a minha camisola rosa. Quando ele me viu só de calcinha, quase não podia acreditar, e um certo pudor enrusbeceu o seu rosto. Virei de costas, ameaçei tirar a calcinha, e movia-me como uma serpente. Eu era o próprio pecado, e o que havia de mais sórdido nas fantasias de um homem. No mundo só havia minha infantil luxúria, o meu vizinho era um espectador objeto, o meu gozo estava em mim mesma. Quando me virei já nua em direção ao prédio do meu vizinho, encontrei a janelas, as cortinas fechadas, e as luzes apagadas num abandono. Ri da minha imprudência voluptuosa, do medo que causei a ele, e acendi um cigarro para fumar na varanda, contemplando as janelas que escondiam as histórias de tantas famílias.
Eu não derramava uma única lágrima, eu não daria esse gosto a ele. Agora fico aqui, com os movimentos imobilizados pelo ódio, mordendo os lábios e sentindo um pouco do meu sangue. Hoje faço treze anos, e ele nem se lembrou. Só me deu uma surra porque quebrei um vaso ordinário. Se ninguém se lembra de mim, quem garante que eu existo mesmo? E agora nem consigo me levantar depois da surra que meu pai me deu com a vassoura que eu limpava a casa. Maldita casa.
O gelo dói no corpo, mas dói pra depois me saciar com a calma. Tomo vários anti-inflamatórios sem nenhuma prudência, mas nunca me preocupei muito com minha saúde, e talvez eu dormisse muito. O sono não chega. Meu ódio queria enfiar aquela faca no meu pai.
Um homem do prédio em frente me observa deitada no sofá com meu pequeno camisola rosa meio transparente, justo no momento em que eu estava com as pernas abertas para o ar. Baixo as pernas assim de repente num susto. O homem era bonito, e casado, eu sabia. Devia ter seus trinta anos. Ele me contemplava com um desejo violento, e eu sentia os seus olhos caminhando pelas minhas pernas, pelos meus pequenos seios, pela minha intocada vagina. Eu tinha o semblante enfermo, pálido, e hematomas na pernas, mas isso não o incomodava. Ele só se embriagava na minha virgindade hostil.
Liguei o som. Vim caminhando na direção dele enquanto levantava delicadamente a minha camisola rosa. Quando ele me viu só de calcinha, quase não podia acreditar, e um certo pudor enrusbeceu o seu rosto. Virei de costas, ameaçei tirar a calcinha, e movia-me como uma serpente. Eu era o próprio pecado, e o que havia de mais sórdido nas fantasias de um homem. No mundo só havia minha infantil luxúria, o meu vizinho era um espectador objeto, o meu gozo estava em mim mesma. Quando me virei já nua em direção ao prédio do meu vizinho, encontrei a janelas, as cortinas fechadas, e as luzes apagadas num abandono. Ri da minha imprudência voluptuosa, do medo que causei a ele, e acendi um cigarro para fumar na varanda, contemplando as janelas que escondiam as histórias de tantas famílias.
Assinar:
Postagens (Atom)

